O Jardim de Arca d’Água e a Praça 9 de Abril: História, Memória e Identidade Urbana no Porto
O Jardim de Arca d’Água, situado na freguesia de Paranhos, na cidade do Porto, constitui um espaço verde de referência no contexto urbano portuense, articulando valores patrimoniais, naturais e simbólicos. Implantado no centro da Praça 9 de Abril, este jardim é mais do que um simples espaço de lazer — é um ícone urbano que evoca camadas de memória histórica e identitária da cidade.
A toponímia “Arca d’Água” remonta aos séculos XVI e XVII, período em que foram construídas estruturas subterrâneas destinadas ao armazenamento e condução das águas provenientes das nascentes de Paranhos. Estas arcas ou reservatórios desempenharam um papel central no abastecimento de água à cidade do Porto, alimentando fontes e chafarizes públicos através do sistema hidráulico conhecido como “Águas Livres de Paranhos”. O termo “arca” refere-se, neste contexto, a um compartimento subterrâneo de recolha e distribuição de água potável, cuja importância foi crucial até ao final do século XIX, quando o sistema começou a ser progressivamente substituído por novas infraestruturas modernas.
O actual jardim foi inaugurado em 1928, no seio de um programa de embelezamento urbano impulsionado pelo município. Projectado por Jerónimo Monteiro da Costa, o espaço insere-se numa lógica de valorização da natureza no contexto da expansão urbana, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população residente. O jardim integra elementos decorativos como o coreto central, um lago artificial, esculturas — com destaque para a obra “A Família”, de Charters de Almeida (1972) — e um conjunto arborizado com espécies exóticas e autóctones, entre as quais se destacam magnólias centenárias.
Por sua vez, a designação da praça onde se insere o jardim — Praça 9 de Abril — constitui uma homenagem à data da Batalha de La Lys, ocorrida a 9 de abril de 1918, durante a Primeira Guerra Mundial. Nesse confronto, o Corpo Expedicionário Português sofreu pesadas baixas às mãos do exército alemão, num episódio que se tornou símbolo da resistência e do sacrifício dos soldados portugueses em solo europeu e/ou por forma a evocar o terrível combate de 1833, entre os absolutistas (fieis a D. Miguel) entrincheirados no alto do Covelo e os liberais (D. Pedro). A escolha deste topónimo exprime, assim, uma dimensão de culto patriótico e de memória coletiva, que se conjuga com a dimensão local e funcional do espaço.
Neste local, num descampado largo, desenrolou-se no séc. XIX um célebre duelo que ficou nos anais da história da cidade entre Antero de Quental e Ramalho Ortigão.
Entre 1903 e 1916 realizava-se neste largo a grande feira de S. Miguel, vinda do Largo da Boavista.
Atualmente, o Jardim de Arca d’Água representa um espaço multifuncional onde a história, a memória e a vida quotidiana convergem. Frequentado por famílias, estudantes, idosos e animais, o jardim é também um espaço de observação da sociabilidade urbana contemporânea, testemunhando a importância dos espaços públicos na consolidação da identidade citadina.
A toponímia “Arca d’Água” remonta aos séculos XVI e XVII, período em que foram construídas estruturas subterrâneas destinadas ao armazenamento e condução das águas provenientes das nascentes de Paranhos. Estas arcas ou reservatórios desempenharam um papel central no abastecimento de água à cidade do Porto, alimentando fontes e chafarizes públicos através do sistema hidráulico conhecido como “Águas Livres de Paranhos”. O termo “arca” refere-se, neste contexto, a um compartimento subterrâneo de recolha e distribuição de água potável, cuja importância foi crucial até ao final do século XIX, quando o sistema começou a ser progressivamente substituído por novas infraestruturas modernas.
O actual jardim foi inaugurado em 1928, no seio de um programa de embelezamento urbano impulsionado pelo município. Projectado por Jerónimo Monteiro da Costa, o espaço insere-se numa lógica de valorização da natureza no contexto da expansão urbana, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população residente. O jardim integra elementos decorativos como o coreto central, um lago artificial, esculturas — com destaque para a obra “A Família”, de Charters de Almeida (1972) — e um conjunto arborizado com espécies exóticas e autóctones, entre as quais se destacam magnólias centenárias.
Por sua vez, a designação da praça onde se insere o jardim — Praça 9 de Abril — constitui uma homenagem à data da Batalha de La Lys, ocorrida a 9 de abril de 1918, durante a Primeira Guerra Mundial. Nesse confronto, o Corpo Expedicionário Português sofreu pesadas baixas às mãos do exército alemão, num episódio que se tornou símbolo da resistência e do sacrifício dos soldados portugueses em solo europeu e/ou por forma a evocar o terrível combate de 1833, entre os absolutistas (fieis a D. Miguel) entrincheirados no alto do Covelo e os liberais (D. Pedro). A escolha deste topónimo exprime, assim, uma dimensão de culto patriótico e de memória coletiva, que se conjuga com a dimensão local e funcional do espaço.
Neste local, num descampado largo, desenrolou-se no séc. XIX um célebre duelo que ficou nos anais da história da cidade entre Antero de Quental e Ramalho Ortigão.
Entre 1903 e 1916 realizava-se neste largo a grande feira de S. Miguel, vinda do Largo da Boavista.
Atualmente, o Jardim de Arca d’Água representa um espaço multifuncional onde a história, a memória e a vida quotidiana convergem. Frequentado por famílias, estudantes, idosos e animais, o jardim é também um espaço de observação da sociabilidade urbana contemporânea, testemunhando a importância dos espaços públicos na consolidação da identidade citadina.
O Manancial de Paranhos e a Obra Hidráulica de Abastecimento à Cidade do Porto: Génese, Desenvolvimento e Impacto
O Manancial de Paranhos, também conhecido por Manancial de Arca d’Água ou Manancial das Três Fontes de Paranhos, constitui um dos mais relevantes sistemas históricos de abastecimento de água da cidade do Porto. Situado na freguesia de Paranhos, este manancial desempenhou, desde os primórdios da história urbana portuense, um papel determinante no fornecimento de água potável à cidade.
A origem da exploração destas águas é incerta, embora haja registos da existência de uma fonte em Paranhos já no ano de 1120. Contudo, a partir de meados do século XV, referências a três nascentes distintas no local conduziram à designação “Arca das Três Fontes de Paranhos”. O crescimento demográfico da cidade e a escassez de água potável, apesar da existência de numerosas fontes intramuros (cerca de 40 em 1594), motivaram os cidadãos do Porto a peticionar ao rei D. Sebastião a autorização para canalizar a água de Paranhos para o centro urbano. A população propôs contribuir financeiramente com 1.000 cruzados. Ainda que o pedido tenha sido aceite, não se registaram avanços durante o seu reinado.
A 20 de novembro de 1597, D. Filipe I emitiu um alvará régio que autorizava a execução da obra, precedida de uma avaliação dos custos, indemnizações e traçado. A provisão estipulava o financiamento através da imposição sobre o vinho e o sal, os excedentes das sisas e o montante doado pela população. O alvará foi registado oficialmente a 9 de abril de 1598.
As obras foram adjudicadas no final de 1603 e o primeiro pagamento registado ocorreu a 11 de fevereiro de 1604, para aquisição de materiais. Os mestres pedreiros Pantaleão Brás e Manuel Gonçalves, assistidos por Gonçalo Vaz, Gaspar Gonçalves e António João, estimaram um orçamento de 3.295$700 réis. O projecto incluía a condução da água até à Porta do Olival e a canalização para o Chafariz de São Domingos. A colocação da primeira pedra, em 1603, deu-se em cerimónia solene, embora as obras só tenham efetivamente iniciado a 12 de março de 1604, prolongando-se até Setembro de 1605. Em 1606, a água já alcançava os chafarizes da Rua Nova e de São Domingos. A vistoria final da obra foi realizada em 1607 e o último pagamento efetuado no final de 1608.
Apesar da existência de outros mananciais, o de Paranhos destacou-se pela qualidade e abundância das suas águas. A nascente localizava-se nos arrabaldes da cidade, sob o atual Jardim da Arca d’Água (Praça 9 de Abril). A água brotava de diversas nascentes e seguia através de uma galeria subterrânea em pedra até ao centro urbano, alimentando múltiplas fontes.
O traçado do aqueduto era variado: canos de pedra, barro ou grés. O percurso, conforme descrito por Baltazar Guedes (1669), passava pela Estrada de Braga, Regado, Monte Pedral, Ribeirinho, Ferradores, Cedofeita, Vila Parda, Colégio dos Meninos Órfãos, e culminava na Porta do Olival. A água era então distribuída para vários chafarizes e instituições, incluindo o Hospital de Roque Amador e a Misericórdia.
Ao longo dos séculos, foram reportadas diversas anomalias na rede hidráulica — fugas, entupimentos por pedras e raízes — que motivaram constantes obras de reparação. Em 1789, a Junta das Obras Públicas contratou o sargento-mor Francisco Rodrigues Mendes para reavaliar e reformar o percurso do aqueduto. Ainda assim, em 1825, persistindo os problemas, a Câmara Municipal decidiu modificar o traçado e reformar a Arca principal. Para preservar a qualidade da água, foram ainda relocalizados os lavadouros e fontes junto à nascente.
Nesse mesmo ano, deliberou-se incorporar o aqueduto do manancial de Salgueiros (com origem na atual Rua Antero de Quental), cuja construção havia sido iniciada em 1789. A junção das águas de Paranhos e Salgueiros ocorreu na Arca do Anjo, aumentando o caudal disponível.
O sistema passou a abastecer lavadouros públicos, tanques e um vasto conjunto de chafarizes, entre os quais se destacam: a fonte da Arca d’Água, do Matadouro de Paranhos, da Bica Velha, do Carvalhido, da Vila Parda, da Boavista e da Rua de Cedofeita. Após a fusão com Salgueiros, a água chegou aos chafarizes do Mercado do Anjo, da Porta do Olival, da Colher, das Taipas, dos Banhos e da Misericórdia.
Este complexo sistema de abastecimento de águas, sustentado por uma impressionante engenharia hidráulica, foi alvo de admiração por diversos autores, que reconhecem a capacidade técnica e o engenho dos portuenses da Idade Moderna na construção e manutenção de uma infraestrutura subterrânea vital para a saúde e o desenvolvimento urbano da cidade.

Plano topográfico de todos os caminhos, lugares, e propriedades, por onde passa o encanamento da água que vem da Arca de Paranhos ao novo aqueduto de Salgueiros e daí para a cidade 1826.
Encontro das minas dos mananciais de Salgueiros e de Paranhos
Segundo troço da mina
Distribuição de águas dos mananciais de Paranhos, na Estrada de Braga - 1850
A: Receptáculo das Águas de Paranhos
B, C e D: Mananciais confluentes ao depósito geral e aqueduto
E: Aqueduto
F: Rio das Lavadeiras
G: Rio com águas muito baixas
A: Receptáculo das Águas de Paranhos
B, C e D: Mananciais confluentes ao depósito geral e aqueduto
E: Aqueduto
F: Rio das Lavadeiras
G: Rio com águas muito baixas
Local de consulta: Arquivo Histórico
Manancial de Paranhos
Canal História
A Quinta do Covelo: Entre o Património Setecentista e o Palco de Conflito na Guerra Civil Portuguesa
A actual zona do Covelo, no Porto, possui uma história marcada tanto pela nobreza rural do Antigo Regime como pelos episódios dramáticos do cerco de D. Miguel à cidade durante a Guerra Civil Portuguesa (1832–1834). A propriedade que ali se situava, originalmente designada como Quinta do Lindo Vale ou Quinta da Boavista, remonta ao século XVIII e preservava características arquitectónicas e espaciais típicas das quintas senhoriais da época.O primeiro proprietário identificado foi o fidalgo Pais de Andrade, que terá transmitido a propriedade às suas filhas. Estas, por sua vez, venderam-na a Manuel José do Covelo, abastado negociante que lhe deu o nome pelo qual ficou definitivamente conhecida. Após a sua morte, foi sepultado na capela da quinta, então dedicada a Santo António. Em 1829 ou 1830, os seus descendentes alienaram a propriedade a Manuel Pereira da Rocha Paranhos.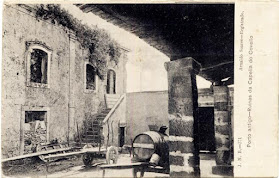
Pátio Interior
Contudo, a tranquilidade associada ao uso residencial da quinta foi interrompida com o eclodir das lutas liberais. Durante o cerco de D. Miguel ao Porto, o alto do Covelo — também conhecido popularmente como “o monte” — foi considerado um ponto estratégico crucial pelas forças absolutistas, devido à sua elevação e localização. O local foi fortificado, ali se instalaram baterias de artilharia, e a quinta transformou-se numa posição militar de ataque e vigilância, com o objectivo de bombardear a cidade e impedir o acesso de mantimentos trazidos por camponeses de Paranhos.
A importância táctica da Quinta do Covelo tornou-a alvo de sucessivos combates. A 16 de Setembro de 1832, foi tomada pelas forças liberais num assalto que envolveu mais de 1400 homens. A resistência absolutista foi feroz, resultando num combate particularmente violento e na consequente destruição da propriedade, então incendiada. Apesar da conquista, a quinta voltou a cair nas mãos dos miguelistas em Março de 1833, que reforçaram a posição com paliçadas defensivas.A resposta liberal foi célere: a 9 de Abril de 1833, sob a liderança do coronel José Joaquim Pacheco, as forças constitucionais bombardearam intensamente a posição, desalojando as tropas absolutistas e retomando o controlo da quinta. Este ataque contou com o apoio de várias baterias localizadas em pontos estratégicos da cidade — como a Glória, o Pico das Medalhas e o Marquês de Pombal — que coordenaram um fogo cruzado sobre o reduto inimigo. O coronel Pacheco, que mais tarde morreria em combate na Areosa, foi homenageado pela cidade, que atribuiu o seu nome à antiga Praça do Mirante, hoje conhecida como Praça Coronel Pacheco.

Uma crónica contemporânea ilustra bem a intensidade do confronto: “[…] a 9 de Abril, a artilharia dos liberais começou a responder desde as primeiras horas da manhã e durou o fogo até às seis da tarde. Cruzaram-se os fogos das baterias da Glória, do Pico das Medalhas, do Sério, da Aguardente e de S. Brás. […] Uma força de mil homens saiu fora das linhas para tomar de assalto o monte do Covelo. […] No dia seguinte, 10 de Abril, os absolutistas voltaram com o intuito de retomarem as posições. Estavam lá dentro apenas 200 soldados. Foram atacados por mais de 2000 do inimigo. Foram momentos decisivos. Duzentos homens livres conseguiram pôr em fuga 2000 do inimigo.”
A Quinta do Covelo, transformada num espaço de memória histórica, testemunha assim a transição do seu estatuto senhorial para símbolo das lutas liberais, marcando o território com cicatrizes da guerra e contribuindo para a identidade histórica e urbana da freguesia de Paranhos e da cidade do Porto.
A entrega do espaço ao Estado no século XX, com a condição de se construir um hospital para tuberculosos (intenção nunca realizada), reflecte preocupações higienistas e assistenciais da época. A posterior gestão pelo município e a sua reconversão em espaço verde urbano revela as transformações da política urbana e do uso social do território.Estrutura e Usos AtuaisO espaço da antiga quinta mantém estrutura fundiária legível, com caminhos, socalcos e arborização característica, onde se destacam pinheiros-mansos (Pinus pinea) e sobreiros (Quercus suber). A área inclui:
✔Ruínas históricas: Casa senhorial e capela (não intervencionadas)✔Centro de Educação Ambiental: Instalações pedagógicas para escolas e comunidade✔Parque Infantil: Um dos mais completos da cidade, requalificado em 2009✔Parque Canino e pista de BTT: Usos contemporâneos adaptados às novas práticas urbanas✔Horta pedagógica: Promove práticas sustentáveis e saberes tradicionais
Este modelo de reapropriação do espaço insere-se nas políticas de sustentabilidade e valorização do património paisagístico e social.
A Quinta do Covelo: Entre o Património Setecentista e o Palco de Conflito na Guerra Civil Portuguesa
A actual zona do Covelo, no Porto, possui uma história marcada tanto pela nobreza rural do Antigo Regime como pelos episódios dramáticos do cerco de D. Miguel à cidade durante a Guerra Civil Portuguesa (1832–1834). A propriedade que ali se situava, originalmente designada como Quinta do Lindo Vale ou Quinta da Boavista, remonta ao século XVIII e preservava características arquitectónicas e espaciais típicas das quintas senhoriais da época.
O primeiro proprietário identificado foi o fidalgo Pais de Andrade, que terá transmitido a propriedade às suas filhas. Estas, por sua vez, venderam-na a Manuel José do Covelo, abastado negociante que lhe deu o nome pelo qual ficou definitivamente conhecida. Após a sua morte, foi sepultado na capela da quinta, então dedicada a Santo António. Em 1829 ou 1830, os seus descendentes alienaram a propriedade a Manuel Pereira da Rocha Paranhos.
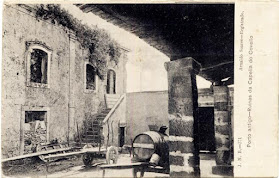 |
| Pátio Interior |
A importância táctica da Quinta do Covelo tornou-a alvo de sucessivos combates. A 16 de Setembro de 1832, foi tomada pelas forças liberais num assalto que envolveu mais de 1400 homens. A resistência absolutista foi feroz, resultando num combate particularmente violento e na consequente destruição da propriedade, então incendiada. Apesar da conquista, a quinta voltou a cair nas mãos dos miguelistas em Março de 1833, que reforçaram a posição com paliçadas defensivas.
A resposta liberal foi célere: a 9 de Abril de 1833, sob a liderança do coronel José Joaquim Pacheco, as forças constitucionais bombardearam intensamente a posição, desalojando as tropas absolutistas e retomando o controlo da quinta. Este ataque contou com o apoio de várias baterias localizadas em pontos estratégicos da cidade — como a Glória, o Pico das Medalhas e o Marquês de Pombal — que coordenaram um fogo cruzado sobre o reduto inimigo. O coronel Pacheco, que mais tarde morreria em combate na Areosa, foi homenageado pela cidade, que atribuiu o seu nome à antiga Praça do Mirante, hoje conhecida como Praça Coronel Pacheco.
 |
Uma crónica contemporânea ilustra bem a intensidade do confronto: “[…] a 9 de Abril, a artilharia dos liberais começou a responder desde as primeiras horas da manhã e durou o fogo até às seis da tarde. Cruzaram-se os fogos das baterias da Glória, do Pico das Medalhas, do Sério, da Aguardente e de S. Brás. […] Uma força de mil homens saiu fora das linhas para tomar de assalto o monte do Covelo. […] No dia seguinte, 10 de Abril, os absolutistas voltaram com o intuito de retomarem as posições. Estavam lá dentro apenas 200 soldados. Foram atacados por mais de 2000 do inimigo. Foram momentos decisivos. Duzentos homens livres conseguiram pôr em fuga 2000 do inimigo.”
A Quinta do Covelo, transformada num espaço de memória histórica, testemunha assim a transição do seu estatuto senhorial para símbolo das lutas liberais, marcando o território com cicatrizes da guerra e contribuindo para a identidade histórica e urbana da freguesia de Paranhos e da cidade do Porto.
A entrega do espaço ao Estado no século XX, com a condição de se construir um hospital para tuberculosos (intenção nunca realizada), reflecte preocupações higienistas e assistenciais da época. A posterior gestão pelo município e a sua reconversão em espaço verde urbano revela as transformações da política urbana e do uso social do território.
Estrutura e Usos Atuais
O espaço da antiga quinta mantém estrutura fundiária legível, com caminhos, socalcos e arborização característica, onde se destacam pinheiros-mansos (Pinus pinea) e sobreiros (Quercus suber).
A área inclui:
✔Ruínas históricas: Casa senhorial e capela (não intervencionadas)
✔Centro de Educação Ambiental: Instalações pedagógicas para escolas e comunidade
✔Parque Infantil: Um dos mais completos da cidade, requalificado em 2009
✔Parque Canino e pista de BTT: Usos contemporâneos adaptados às novas práticas urbanas
✔Horta pedagógica: Promove práticas sustentáveis e saberes tradicionais
Este modelo de reapropriação do espaço insere-se nas políticas de sustentabilidade e valorização do património paisagístico e social.































.jfif)

Sem comentários:
Enviar um comentário